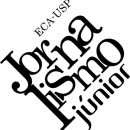Arte engajada em São Paulo se revela em experiência metalinguística
Por Tamara Nassif (tams.nassif@gmail.com)
É só abrir os olhos que a gente sente.
Luzes da cidade piscando, sapatilhas das bailarinas em meia-ponta, vendavais de gente em volta de um palco de música popular brasileira, som do atrito do pincel contra a paleta, notas de jazz em algum barzinho no centro, as risadas de crianças em ruelas do Capão Redondo e zumzumzum de carros na Rua da Consolação.
Entre prédios de concreto e olhares automáticos voltados para pés, o que faz da cidade tão humana é o que nós, humanos, fazemos dela e nela. E em cada esquina de São Paulo tem um tantinho de gente ali, marcada em um pavimento pelo qual já passaram tantas histórias e tanta chuva da terra da garoa, em uma parede que já foi pintada e apagada por tinta de todas as cores.
Cada cidade tem sua fisionomia, seu rosto, sua história impressa em cada uma das rugas de asfalto e veias e artérias de linhas de transporte subterrâneo.
Na epiderme de São Paulo, a gente vê o rubor de uma vida emergindo que se traduz em cor, em cultura, em tinta spray e em erupções de pessoas caminhando descompassadas, cada qual com a mente em um universo próprio e pessoal.
Na epiderme de São Paulo, a gente vê a afluência do que é arte.
E, na arte, quase como traços étnicos e genéticos que diferenciam uma pessoa de outra, a gente vê o que uma cidade é, de fato.
Nas palavras da antropóloga Carolina de Camargo Abreu, a arte, em especial a de rua, são gritos de uma sociedade que roga para ser assimilada e visível, independentemente de seu viés, seu objetivo, seu fim. É o caso dos grafites e pixos, que tatuam a tez pálida e acinzentada de São Paulo com seus desenhos coloridos e letras indecifráveis para quem vê de fora. São o inconsciente da cidade, tal como a teoria freudiana e os postulados da nossa psique. São a grande massa de iceberg que fica escondida dentro da água, mas que compõe essa estrutura, essa essência, integralmente.

O grafite e o pixo se imprimem como arte urbana, porque, como todo tipo de Arte, são capazes de gerar alguma coisa dentro da gente. Um quê de sentimento, de interesse, de curiosidade. Faz o coração pular em questionamento, em dúvida, em qualquer tipo de inquietação. Por trás de todo traçado reside uma marca humana, uma pegada de quem já passou por ali e viu, em um muro ou em uma ruela, uma forma de se eternizar e de eternizar a humanidade de uma cidade perene, mas inconstante e passível a todo tipo de mudança.
De cor em cor, curva em curva, a arte logo se torna política. Muitas vezes, o que a gente acha que é arte política é aquela que exterioriza, logo de cara e com clareza, suas intenções e desejo de intervir e de transformar a realidade de alguma forma, seja por meio do próprio discurso ou do meio em que ela se insere para tanto. Mas isso é um passo em falso.
Tudo é política, em seu sentido mais amplo: aquilo que diz respeito ao que é notadamente público, ao que é composto de organização social por pessoas e para pessoas. Como disse Carolina, “se a arte é um conjunto de linguagens, essas linguagens são para falar do mundo, de questões da humanidade e questões de um momento histórico que se traduz por meio da arte”. E não há nada de mais político do que falar do mundo e de questões que se apresentam para nós como sociedade. Até mesmo o desenho de uma borboleta, despropositado e livre, tem uma finalidade política, ainda que os dedos que o coloriram não tivessem esse objetivo. É por ele estar inserido numa cidade ou num papel e por ter um fim em si próprio. É por passar uma mensagem e ela, de algum jeito, fugir da normalidade, da pacatez, do ordinário.
Não transmitir coisa alguma também é política. A isenção, desde que o samba é samba, já diz muita coisa por si só. Uma arte que apenas enche os olhos de beleza e de encantamento também é política, porque está usando cores, traços, sons, recursos, tempo e mobilização de pessoas para provocar essas impressões. Carolina contou, entre um golinho de café e outro, que “se a arte é o próprio desenho, a própria linha, então essa linha já contém a sua mensagem política”.
E da política ao engajamento só é preciso um salto de amarelinha.
Em contextos tão bagunçados como o de hoje, arte pode ser a faísca necessária para incandescer fogos de artifício. Ela consegue iluminar lutas que estrondeiam por mudanças, por uma realidade que não seja tão cheia cinza e de espinhos, e tirar o nosso fôlego em uma chuva de cores e traços como em noite de ano novo. Ela tem um poder transformador e amplificador deveras impressionante, e é o artista que escolhe o impacto e a intencionalidade de seus desenhos por traços e percepções tão singulares e autorais. Foi assim que a artista de rua apelidada de Mag Magrela falou em meio ao fuzuê irradiante do Centro Cultural São Paulo. Entre um passo e contrapasso de um grupo de dança e uma reencenação do Auto da Compadecida por um de teatro, Mag disse que a arte é o que a gente faz dela – e o que ela, como tantos outros artistas, escolhe fazer é tentar mudar o mundo de alguma forma.

O impacto que os traços trazem vem da possibilidade de serem educadores, de terem a virtude de transformar e de causar uma revolução dentro de cada ser. A arte, principalmente a de rua, consegue entrar e se instalar na vida, na cabeça, no consciente e no inconsciente das pessoas muito mais facilmente do que um romance de Clarice Lispector – e ainda ser tão complexa quanto. “Você pode falar de coisas muito sérias de um jeito muito bonito, mais fácil de ser assimilado”, Mag contou, balançando os brincos cor de rosa. E isso vem para iluminar causas vitais, seja com grandes holofotes ou pequenas lamparinas: “a gente alimenta esses lugares, pessoas, grupos que precisam de força, e a arte pode ir até eles e dar um pouco de visibilidade que seja. Já faz diferença.”
E, devagarinho, mais pessoas ficam sensibilizadas e cientes de questões sociais que pulsam no coração de São Paulo, ou ainda do Brasil e do planeta inteiro. A arte dá voz a quem é emudecido por preconceitos, por violências de todo tipo. Consegue engendrar a conscientização necessária para entender que causas como o movimento negro, o LBGTQI+ ou o feminista merecem ser ouvidas e vistas de olhos bem abertos. Faz repensar valores e também cria a noção de que, se uma certa atitude fere alguém de qualquer jeito, essa atitude deve ser podada pela raíz.

Como as mulheres da artista Grazie Gra, que surgiram bem no começo de todo o seu trabalho como uma forma de apenas expressar o que, para ela, representava terra, “o radical de força geradora e todos os derivados que podem conter no ser feminino.” Nos dias de hoje e por conta de um empurrãozinho que as artes ao redor de Grazie trouxeram, elas passaram a ser parte do movimento feminista e a amparar a causa pela simples representação.
A arte germina empatia dentro de cada pessoa que a olha. Talvez por trazer bonequinhos, cores, floreio e gerar um sentimento de identificação, como acredita Mag Magrela. Talvez por despertar alguma coisa que a língua portuguesa ainda não deu nome, mas que carrega o peito de peso e de vontade de mudar nossa realidade de alguma forma.

A arte e o engajamento andam lado a lado, como bons amigos, há muito tempo. Foi o que Carolina me disse ao citar os teatros russos agitprop (agitação e propaganda) que emergiram em meados da Revolução Russa, em 1917: “o teatro é um contar de histórias como uma arte absolutamente engajada. As de agitprop eram sketchs teatrais para tentar engajar a população rural afastada, ou mesmo a urbana, para efervescer e aumentar o corpo dessa Revolução.” Em um contexto bagunçado, eram essas atrizes e atores que visitavam vilarejos para fazer pequenas encenações e convidar a população mais pobre e não alfabetizada da Rússia a conhecer o comunismo.
“No teatro existe toda uma tradição de arte engajada e de arte que se faz como ferramenta política”, disse Carolina, com os olhos brilhando ao me contar algo que deixa o coração dela cheio. Também existem outras formas, em especial em artes visuais, que marcaram a história pelo jeito tão singular de trazer engajamento.
O dadaísmo é um exemplo, a começar pelo próprio nome, gerador de tantos boatos e mitos: a palavra dada, no francês, significa “cavalo de cepo” e, como reza a lenda, foi escolhida para encabeçar o movimento por ter sido aleatoriamente marcada por um estilete em uma página de dicionário, também aberta aleatoriamente. O uso deixa claro o non-sense ou falta de sentido que uma linguagem pode ter, como nas primeiras falas de um bebê.
Mas o movimento não se resume a um vaso sanitário no centro de uma sala de museu ou pintar bigodes na Mona Lisa e chamá-la de L.H.O.O.Q. ou “elle a chaud au cul“, que em português seria o equivalente a “ela tem um rabo quente”. Ele questiona espaços, construções e racionalidade da arte, elitização, espaços fechados e formas de falar e se portar. Como Carolina disse, “na hora que o dadaísmo põe em cheque essas questões, há uma repercussão política de reflexão intencional que está provocando a rachadura da instituição do que se chamava Arte.”
O surrealismo também fez tremer redes tão fixas em que artistas balançavam. Ele trouxe outras formas de fazer novas linguagens para dentro da tela e elas vieram do que era suprimido ou refreado, como nosso subconsciente. Ele teve potência política de transformação, de questionamento, de transparecer o que há de mais humano na arte. Movimentou dentro de cada pessoa um sentimento de identificação e, muitas vezes, de deslumbramento a ponto de tirar o fôlego. De tudo que a arte do fluxo de consciência trouxe para nós, a veia engajada dela foi a que mais nos marcou e tocou de alguma forma.
No Brasil, as décadas de 80 e 90, para além de “Anos Dourados”, de Chico Buarque, foram assinaladas por muitos artistas indo às ruas por pura militância e engajamento: sem fins lucrativos, sem fins estéticos e sem ao menos autorização legal para tanto. Pintar na rua era crime, era depredação do patrimônio público e era também uma das formas mais puras e genuínas de tentar vociferar o que era tão emudecido pela ditadura civil-militar. Era a liberdade ganhando tons e sendo conquistada, posteriormente, com a redemocratização e com a arte dando as mãos à política, em seu significado formal. Carolina contou, também, que “muito foi feito de forma militante e engajada, sem recursos e sem objetivar qualquer tipo de retribuição financeira, porque isso era um princípio que existia, e existe até hoje, na arte engajada.”
Isso quer dizer que a arte engajada não se permite ter valor monetário e ser vista como mercadoria, igual a um pãozinho de padaria ou um porta-retrato. Na opinião de Carolina, na hora em que há captura dessa arte e transformação dela numa mercadoria de galeria, ela perde a sua potência política. Ela vira um enfeite, uma fotografia que nada diz, um disco de vinil que, de tão arranhado, não toca mais com o mesmo viço e faz o samba soar diferente. Menos samba, mais disco. Uma arte engajada perde o seu potencial de atingir o maior número de pessoas possível, de mudar o maior número de vidas possível. O impacto que ela pode fazer dentro da salinha de estar de alguém é tão pequeno, tão parco e irrisório que tudo que ela pode, de fato, transformar é sua composição de cores. “O uso social feito da obra faz com que ela tenha um maior ou menor potencial político”, disse Carolina. Foi o caso, por exemplo, de Duchamp levando o vaso sanitário para dentro do museu, sendo bastante provocador e muito político.
O engajamento na arte tem muitos rostos diferentes entre si e todos são igualmente bonitos e impactantes. Vem pelas causas sociais, pelo questionamento do que é arte, pelo afloramento dos nossos traços psicológicos, pela militância. Vem também disfarçado, usando fantasias coloridas e que não se deixam passar despercebidas.
São as intervenções artísticas urbanas, que colorem as mais inusitadas situações, cruzam nosso caminho e nos fazem despregar os olhos do chão. Elas despertam a gente do nosso torpor e da nossa imersão em questões que fazem nosso peito apertar. Elas soltam esse aperto do peito. Desde um jardinzinho no meio da rua às frases poéticas de lambe-lambes ao músico que entra no vagão do metrô com um violão cantando Alceu Valença, as intervenções se mostram para nós e nos tiram do eixo por alguns instantes. Ainda que só por dois, três segundos, elas conseguem nos instigar a ponto de nos fazer parte dela, de fazer questionar sua intencionalidade e o impacto que traz por estar diante dos nossos olhos de forma tão desprevenida.
Faz a gente se derreter em microssegundos. Mag Magrela contou a impressão dessas intervenções, deslumbrada, dizendo que “é muito lindo você não esperar que aquilo preencha teu coração num lugar que é opressor”. E a cidade, de fato, é muito opressora quando nós estamos imersos no nosso próprio caos. Ela embarga o escorrer do fluxo criativo da mente aos dedos, voz, corpo, e é a arte que permite que a gente se desprenda dessa opressão.

Calar a arte também é oprimir. Foi isso que aconteceu em 2016, com o “Cidade Linda” da gestão de João Doria. Para além da intenção política, no seu sentido mais formal – de negar os projetos de Fernando Haddad, de promover um antagonismo político e se autoafirmar -, foi uma forma de camuflar a humanidade de São Paulo. Como Carolina disse, o programa “tentou retirar a intervenção na estética da cidade, criando uma cidade cinza, homogeneizada, que traz a ideia de ordem e de que não existem pessoas.” E tirar pessoas de uma cidade é torná-la não-humana. É apagar alguns dos traços que a individualizam, cobrir com maquiagem marcas do rosto que São Paulo têm, tão singulares e únicas. É impedir a afluência da arte na epiderme da cidade.
Mag disse que a maior questão no Cidade Linda foi sufocar uma forma de expressão e criminalizá-la. Virou uma censura nem tão velada assim, uma vontade de calar o quê e quem contava sentimentos não bem-vindos, que não eram lindos quando vistos dentro de uma caixinha fechada e recheada de uma arte que trajava sempre os mesmos uniformes.
O que há de mais bonito na cidade vive na ideia de que ela não é uma só. São Paulo é um mundo, um compilado de tantas faces e histórias que torná-la homogênea, cinza, seria o equivalente a apagar a identidade de um povo que clama pelo direito de ser o que é. A arte é essa identidade e apagá-la é negar a existência de toda a lindeza que é São Paulo. É ensurdecer a música, o samba, a voz, o ritmo de uma cidade que respira por meio dos pulmões de artistas e que se reproduz pelo seu ventre cheio de cor, de vida, de pinceladas.

Julio Dojcsar, Julinho, é grafiteiro e cenógrafo há muito, muito tempo, e foi uma das pessoas com quem conversei sobre o Cidade Linda. Ele contou que pintar São Paulo é uma prática perene. Vem gestão, vai gestão, os artistas de rua permanecem ativos, colorindo traços da cidade e trazendo os próprios, humanos, para o cotidiano, que muitas vezes passa batido: “a vida continua do mesmo jeito, o Dória vai passar e a gente vai continuar pintando a cidade.”
Tanto Julinho quanto Carolina fazem parte de um coletivo chamado casadalapa, um reduto de arte que pulsa vida no bairro da Lapa e um dos lugares mais bonitos, mais tocantes que já tive a oportunidade de ver de tão perto.
É um carrossel de tintas, de cores, de coisas que só se entende bem com o coração. Da energia ao café passado e à confusão do sal por açúcar, tudo ali era um amálgama de arte e de humanidade difícil de transpor para o papel. Uma casinha que mostra o que tem de mais humano no humano, com paredes inteiramente cobertas de lambe-lambes, de grafites gigantescos, de poesias soltas, de vasos de planta, de frases que fazem a gente pensar para além da gente. E foi lá que eu vi alguns dos significados que a arte pode ter.

No quintal, Carolina me contou com tanto gosto o porquê de nós, como seres humanos, fazermos arte. É porque a arte é o que tem de mais humano: “não é uma necessidade, é uma realidade.” Nós somos arte, em nossa essência mais viva. Somos cor, pincelada, traço, retrato, engajamento, contorno. O rosto da cidade é o nosso, multifacetado, plural, diverso, congregador.
“A arte tem a ver com experimentações, ensaios, o inesperado e é sempre marcada pelo extraordinário, porque ela vem como uma subversão do que é previsto. Isso faz parte da nossa vida desde sempre”, ela me disse. A arte é experimentação, é abstração. Mas também é uma infinidade de sentimentos e definições que variam dentro de cada coração que pulsa mais forte ao ver um desenho de flor brotando ou uma peça de teatro.
Para Carolina, arte é sobre mobilizar sentimento, gerar qualquer tipo de reflexão dentro das nossas mentes, e também sobre não ser um estanque: “é saúde, educação, ocupação, memória, corpo, no sentido de possibilidade humana de fazer e se colocar, compartilhar. É mistura de gerações.” Para Mag, arte é o que a norteia, o que a guia e dá sentido para sua vida. “Ela me leva para lugares lindos, no sentido da conexão com as pessoas mesmo. Eu sinto que a arte quebra todos os tipos de barreiras, problemas, preconceitos, tudo que poderia existir que separa um ser humano de outro.” Já pelos olhos de Grazie Gra, é o que a move, a consome, no sentido mais bonito da palavra, o que a fez entender seu lugar no mundo e a criou como pessoa, “é uma das coisas mais complexas que existem.”
Arte é luz, dança, som, desenho, poesia. É o que vibra na cidade e o que a humaniza. É corpo e o que dá corpo para São Paulo. Em cada canto de esquina e canto de voz, a gente consegue sentir na pele erupções e magnetismo de quem é arte com o que é arte.
Como disse Caetano Veloso, “alguma coisa acontece no meu coração/ que só quando cruza a Ipiranga e avenida São João”. Ainda bem que todas as ruas e cruzamentos de São Paulo fazem o coração disparar e se inquietar assim.
E é só fechar os olhos que a gente sente.