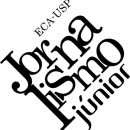Por Mayara Paixão (mayapaixao1@gmail.com)
Século XXI. A comunidade global passa por transformações cotidianamente e assiste ao emergir de diferentes movimentos todos os dias. O mundo ocidental orgulha-se pela variedade de grupos que o compõem e, por vezes, distingue-se pela suposta liberdade que seus habitantes possuem para guiar suas próprias vidas. Porém, ostentar o adjetivo de “sociedade plural” tem seu preço – e, ao que parece, mesmo a sociedade ocidental está em dívida.
Apesar de avanços inegáveis – tais como a legalização do casamento homossexual, aprovada no Brasil em 2011 e consolidada nos Estados Unidos no ano passado; e o Programa Transcidadania da Prefeitura de São Paulo –, persiste a reprodução de discursos baseados na percepção de que os seres humanos são dotados de uma natureza ou essência antes mesmo de virem ao mundo, marginalizando pessoas que não seguem os modelos que as precedem, como é o caso daquelas que não se enquadram nas denominações “homem” ou “mulher”. Essas categorias são problematizadas e rompidas por filósofas como Judith Butler, ao afirmar que o gênero “não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de significado num sexo previamente dado”.
É na desconstrução dessa tradição – que tenta impor, aos diferentes indivíduos, enquadramentos aos quais eles podem não pertencer – que estão os não binários de gênero. Gustavo Couto, de 17 anos, por exemplo, afirma que já sabia que ‘não era um padrãozinho’ e que sempre se viu assim: como não pertencente a nenhum grupo. Em função da falta de discussão desses temas em seu dia a dia, demorou a se considerar um não binário: “Primeiro, comecei a me identificar como um homem gay”, diz ele, “mas sempre acho que estou me descobrindo, sabe? Eu nem sei se amanhã vou ser uma mulher transexual. Então, digo que, hoje, sou uma pessoa não binária.”
Adentrar o universo não binário parte da compreensão de que a identidade de gênero, ou seja, como uma pessoa se identifica – homem, mulher, os dois ou nenhum dos dois – não tem correlação com seu órgão reprodutor ou com a sua orientação sexual. A variedade de gêneros é um campo indefinidamente vasto e não se limita à binaridade homem/mulher, uma vez que diz respeito à forma como cada pessoa, dentro da sua individualidade, entende-se.

Para algumas pessoas, a imposição do gênero que lhes é feita antes mesmo de seu nascimento corresponde à sua identidade, de modo que elas são cisgêneras. Entretanto, para outras, o gênero a elas imposto não as traduz ou representa, e, assim, elas são transgêneras – vão além do gênero que lhes foi designado.
Com o passar do tempo, porém, a definição transgênero teve seu significado restringido. Originalmente, o termo foi criado para abraçar todas as pessoas que não se identificam com a imposição de gênero que lhes foi predeterminada, mas, por a palavra ser muito associada a pessoas transexuais ou que estão em alguma forma de transição, os membros da comunidade que não se identificam com o binário homem/mulher decidiram que precisavam de um termo que descrevesse quem são: não binários.
Não binários e o estudo de gênero
Em 1949, Simone de Beauvoir já trabalhava na desconstrução da ideia de essência com a famosa citação “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher”. Para a teórica feminista e existencialista, as qualidades que determinavam o feminino não eram oriundas de uma natureza biológica ou psíquica, mas sim, de uma elaboração forjada pelo conjunto da sociedade. Foi, entretanto, com Butler que os estudos da chamada performatividade de gênero – como ela mesma nomeia – ganharam força.
Herdeira de Beauvoir, a estadunidense ressignifica boa parte dos trabalhos feministas que a antecederam, ressaltando o poder que o discurso tem na vida dos indivíduos. Sua ideia principal é a de que o discurso habita o corpo e que, de certo modo, produz esse corpo, confunde-se com ele. Dessa forma, os gêneros não passariam de construções sociais que, se não tivessem sido inventadas, não existiriam “naturalmente”.
Nesse sentido, Ariel Silva, de 22 anos, assim como Gustavo, começou a desnaturalização dessas imposições assumindo-se gay. Entretanto, as demarcações externas ainda faziam parte de sua vida, de modo que apenas isso não a contemplava. Foi então que ela percebeu: “Todo o xingamento que me vinha e todo o processo que me era imposto de ser um gay masculino eram coisas a serem quebradas”, conta. “Percebi que podia gritar que era bicha sim e que isso não me tornava menos que ninguém e que refutava essa masculinidade imposta, opressora, excludente, misógina”.
Butler alerta para o fato de que a tradição histórica de distinguir as pessoas, impreterivelmente, entre homens e mulheres precisa, com urgência, ser problematizada. Tratar o histórico como natural é, sem dúvidas, uma estratégia de poder, uma vez que esse sistema binário não é moralmente neutro – dentro de uma lógica do patriarcado, ele, por si só, privilegia o tido como “masculino”.
Ao despertar para essas percepções, Ariel conseguiu olhar para trás e analisar uma série de experiências que ocorreram desde a sua infância e que remetiam ao seu não pertencimento à “masculinidade” conforme os olhares externos. Quando estava no colegial, por exemplo, ela e outro colega de turma assumiram-se gays; entretanto, enquanto os grupos de meninos permitiam que seu colega transitasse entre eles, ela era rechaçada e alvo de uma série de ofensas. Os grupos alegavam que isso acontecia pois o menino era gay, mas não ‘bicha’, ou seja, era homossexual, mas não um homossexual que manifestasse características tidas como pertencentes ao gênero feminino.
Assim, ela deduziu que todas as questões suscitadas acerca de seu comportamento não se referiam a sua sexualidade necessariamente, mas a como ela vivia seu gênero sem prender-se às imposições sociais. Passado o processo, percebeu o peso que o discurso desenvolvia em sua vida e, hoje, diz: “Eu me considero bicha, simultaneamente um tanto homem e mulher, com expressões de masculinidade e feminilidade, para ser mais correta.“

Como a própria teórica fundamentou em seus estudos, vive-se, ainda hoje, uma ordem compulsória de “performatividade social”, em que os seres humanos têm seu destino escrito por seu sexo, descoberto por aqueles que os rodeiam ainda nos primeiros meses de vida intrauterina. A partir desse momento, o gênero e a orientação sexual do indivíduo, necessariamente heterossexual, são determinadas por sua comunidade e, posteriormente, qualquer decisão ou desejo que fujam a esse padrão preestabelecido são automaticamente caracterizados como anormais ou “patológicos”.
Butler abre caminho para o estudo do que chama de corpos abjetos: todos aqueles que, por não serem encaixáveis na estrutura binária de gênero, não são pensados, entendidos e mesmo nomeados; mais do que isso, o abjeto é todo aquele que fora tido como excluído por diferenciar-se do padrão exposto.
Como ela analisa em sua obra “Problemas de Gênero”: “A matriz cultural por intermédio da qual a identidade de gênero se torna inteligível exige que certos tipos de ‘identidade’ não possam ‘existir’.” Essas identidades seriam aquelas que não seguem a “linearidade” da performatividade social, como: fêmea – mulher – heterossexual; ou macho – homem – heterossexual.
Caminhando lado a lado com Judith Butler, surge a Teoria Queer, um campo de estudo e ativismo que pretende estudar e modificar as relações que o denominado genderqueer – que designa as pessoas com gêneros não-normativos e, portanto, dentro do qual estão os não binários de gênero – possui com a sociedade.
O termo queer, que marca presença nas designações da teoria, atua como uma espécie de memória e de ressignificação à exclusão, preconceito e silenciamento pelos quais a comunidade passou, uma vez que era usado como ofensa tanto para homossexuais, quanto para travestis, transexuais e todas as pessoas que desviavam da norma cis-heterossexual. Era o termo para os “desviantes” e, na tradução literal, significa “estranho”.
O queer chega, portanto, para lutar contra as identidades essencializadas e contra a imposição de se ter que assumir uma identidade.
Vislumbrar o feminismo à luz da não-binaridade de gênero
Ao abordar as mais diversas questões de gênero, como as questões não binárias, torna-se quase impossível dissociá-las do feminismo. Sendo um movimento que visa à emancipação das mulheres, ele tem traçado, cada vez mais, caminhos em direção à discussão de gênero e deve ser hábil a transformar-se constantemente no sentido de absorver as mais variadas pautas e reivindicações.
Muitas vertentes do feminismo têm aprendido a transformar-se no sentido de questionar a “qual mulher se quer representar”. Se, antes, praticamente a majoritária parte do movimento referia-se apenas às mulheres cisgêneras, hoje, parte considerável tem tentado expandir sua compreensão para o fato de que, pelo gênero ser uma construção do discurso, as mulheres transgêneras também devem ter suas reivindicações pautadas.
Para Ariel Silva, a principal questão é saber qual o seu local de fala e participação, entendendo que nenhuma pauta é maior que outra e que toda a opressão de uma sociedade tradicionalmente patriarcal está conectada. “Pautas transfeministas costumam nos contemplar, sendo ali, então, nosso espaço de diálogo”, diz ela.
Por vezes, vertentes do movimento feminista possuem matrizes trans-excludentes, e, segundo Ariel, isso invisibiliza os não binários, reforçando “um sistema cissexista, que impõe gênero a partir apenas de uma observação biológica”. Para ela, a luta contra o patriarcado tem que ser conjunta, de modo a mirar em todas as estruturas opressoras, “sem invisibilizar ninguém no caminho”.

Judith Butler também auxilia nesse temática e mostra que o ativismo e os estudos do não binário têm muito a ensinar ao feminismo – e vice-versa. Para ela, o feminismo deve ser visto como uma espécie de liberdade negativa: a liberdade de não se definir, não assumir uma identidade. Nesse sentido, a filósofa relativiza: a incorporação de uma identidade pode até ser positiva, como quando alguém se afirma mulher no âmbito do feminismo; mas pode excluir esse sujeito, colocando-o num lugar de opressão do qual o próprio feminismo pretendia emancipá-lo.
Assim, o caminho para o feminismo seria o respeito aos corpos cuja liberdade depende de serem livres do discurso que os constituiu; e, como disse Gustavo Couto ao relacionar as questões não binárias e o movimento: “Para mim, é uma questão de empatia”.
A relevância de discutir as questões de gênero na educação
As questões de gênero praticamente não são abordadas ao longo do ensino escolar de uma pessoa. Isso fortalece dois problemas: prejudica a auto identificação das pessoas não-binárias, ou que não pertençam ao cisgênero, uma vez que elas não têm contato com esse universo e, muitas vezes, aprendem que ele é ‘errado’; e perpetua a formação de preconceitos. As crianças, que escutam, desde pequenas, termos como ‘traveco’, ‘mulher-macho’, ‘bicha’ como representantes de seres ‘anormais’ e que não são amados, crescem reproduzindo esses preconceitos e tendo medo de “se tornarem assim”, de modo que podem chegar a tentar inibir a sua própria identidade de gênero.

A ausência desses temas na educação se reflete em algo simples: é comum que não saibamos qual artigo (feminino ou masculino) devemos usar ao falar com uma pessoa não-binária. A exemplo disso, Ariel conta que, cotidianamente, costuma ser tratada pelo artigo feminino, mas, quando as situações remetem a seu nome de registro, as pessoas acabam a tratando pelo masculino. “São situações que eu sei que ocorrerão porque nem sempre o entendimento que tenho ou as questões que discuto são acessíveis ou pensadas nas políticas públicas”, diz ela. Desenvolver e reforçar programas que pensem essas questões seria o caminho para que elas fossem enxergadas como uma “diversidade a ser respeitada”.
Essa confusão ocorre, em grande parte, porque não aprendemos algo básico: não devemos impor nada, mesmo que seja um artigo, a ninguém. O caminho é uma pergunta simples: “você prefere que eu use o artigo masculino ou feminino? ”. A resposta poderá ser uma das escolhas ou um simples “para mim tanto faz”.